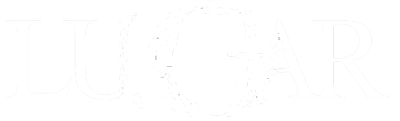"Isto acontece porque na minha meninice o dinheiro era pouco, não havia rádio nem televisão. Em casa da minha avó nem sequer havia luz elétrica, porque ela não tinha lá chegado. E, depois, quando eu podia lá estar, era uma maravilha. Depois da ceiazinha: contos. Falar de coisas boas da vida, porque as más, não valia a pena recordar. E os contos foram estando, assim, muito comigo."
Transcrição
LCC - Luís Correia Carmelo
JC - José Craveiro
...
LCC: Já nos cruzámos várias vezes. Pelo menos há quinze anos que nos vamos cruzando, nas Andarilhas, enfim, em serões de contos... Eu queria que contasses um bocadinho de como é que foste parar a isto. Como é que aconteceu?
JC: Isto acontece porque na minha meninice o dinheiro era pouco, não havia rádio nem televisão. Em casa da minha avó nem sequer havia luz elétrica, porque ela não tinha lá chegado. E, depois, quando eu podia lá estar, era uma maravilha. Depois da ceiazinha: contos. Falar de coisas boas da vida, porque as más, não valia a pena recordar. E os contos foram estando, assim, muito comigo. Depois, eu nunca imaginei sair muito da minha área, porque eu não tinha formação nenhuma nesta área, nem em áreas parecidas e, portanto, estava longe de mim esta ideia de sair de lá do meu espaço. Mas, entretanto, nas escolas, em Coimbra em alguns eventos e tal, começam a perguntar se eu não era capaz de ir contar uma história. Está bem. Até porque, normalmente as pessoas que tinham alguma formação nesta área, por estranho que pareça, eu só ouvia contar as histórias do “Capuchinho Vermelho”, da “Branca de Neve”. Umas histórias que, a mim, nunca me entusiasmaram muito, pronto. Mas, pronto, era o que eu ouvia por lá. Mas, pronto, comecei a ir assim… Até que a grande saída acontece com as Andarilhas. Eu digo que não, que não vou. O meu vereador da cultura, à época, era um homem que, apesar de ser professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, era um homem de uma humildade extraordinária. E, então, quando percebeu que eu gostava muito de etnografia, que eu gostava muito da cultura popular, em geral – lia todas as histórias, porque gostava muito – quando ele lê que em Beja vai acontecer uma coisa extraordinária, ele diz: “Nós queremos participar. Isto é uma coisa que faz história e, portanto, queremos participar. E você é a única pessoa que nos pode ajudar”. E, eu disse: “Eu, mas tem aí pessoas formadas, licenciadas e tal, que estão muito mais à vontade para isso do que eu”. “Não, não. Você é que tem que ir”. E, eu inventei todas as desculpas possíveis, tentei me descartar e tal. Mas, ele insistiu. E fez uma coisa que deixou muita gente assim um bocado abananada. Ele disse “O senhor vai, vai um Carro da Câmara levá-lo e trazê-lo. Não se preocupe”. Pronto. E eu fui. Em Beja, eu fiquei fascinado. Mas senti-me um bocado mal, porque confesso, também nas primeiras “Palavras Andarilhas”, eu vi que não era só eu. Havia pessoas até, se calhar, com mais preparação do que eu. Mas que também, aquilo foi uma coisa muito boa… e havia algum medo. E, num dos espaços para os contos, que era aberto para inscrições e tal, as pessoas tiveram medo. Quem ia, ia com algum nervosismo e eu fiquei assim um bocado assustado, pois. Com o Serafim que estava a receber as inscrições, eu disse-lhe: “Se me deixar usar o meu capote, eu sou capaz de ir contar um conto. Mas, sem capote, eu não me sinto assim tão bem”. Ele aceitou. Aliás, as palavras dele foram estas: “Com capote, sem capote, avance.” E foi. E o que é que aconteceu? A história que me veio à mente era uma história que se contava muito na minha família. Nunca a ouvi fora da família. Em várias casas de familiares, sobretudo de uma tia velhota, tia-avó, ela gostava muito de contar esta história, que era a história do criado Serafim. E, então, eu conto a história. No fim da história, chego cá fora e o Serafim diz-me: “Eu também me chamo Serafim. Essa história, muito obrigado, mas eu sinto-a como para mim”. Eu disse: “Com muito gosto”. E, pronto, a partir dali, a coisa foi rolando, foi indo. Eu continuei a ir a algumas escolas lá e tal. E depois da segunda participação nas Andarilhas, então é que...
...
JC: Eu fui o último contador nos velórios. Portanto, eu assisto à transição do velar em casa para a Capela. Na minha zona, as pessoas foram resistindo muito. É uma zona muito conservadora, foi muito briosa na sua cultura e tal. E a cultura da morte também foi uma coisa que ficou. E as pessoas estavam muito agarradas à sua casa e tal. Aliás, eu já lhes disse: “Quando eu morrer, não quero ir para capela nenhuma. Podem-me pôr no pátio, onde quiserem. Mas, dentro do espaço da minha casa”. Pronto. Mas, claro, foi um dos espaços onde, quando aqueles mais velhos que faziam isso e foram desta vida – a minha avó foi das últimas pessoas – eu passei a ocupar o espaço. E digo isto com agrado porque, quando eu às vezes tinha que sair e não podia estar num velório, as pessoas ao outro dia disseram-me: “Ah, já não foi a mesma coisa”.
Os velórios tinham assim um primeiro tempo que era muito voltado para a vida e para a morte, mas depois, a partir de uma certa hora, contávamos tudo e de tudo.
...
JC: Também tive outros espaços que era, por exemplo, de pessoas amigas que recebiam visitas lá em casa. E depois, claro, havia um tempo em que não havia nada para falar. E eu ia precisamente para isso, para contar umas histórias, cantar uma modinha e tal. E isto manteve-me a memória sempre muito viva. Foi assim que eu me fui mantendo nesta área.
LCC: E, na tua meninice, além dos velórios, em que tipo de outros contextos é que cresceste a ouvir?
JC: Eu, aos oito anos, vou para uma mercearia e taberna que o meu pai tem. Tomou aquilo de trespasse. Por estranho que pareça, diz que eu é que vou estar à frente daquilo quando não estiver na escola. Porque eu estava na segunda classe e o meu pai não tinha escolaridade, nem a minha mãe. Então, eu fico ali. Faço os meus deveres ao balcão, enquanto não vem ninguém e tal. Mas, tenho a felicidade de ter como clientes, que depois passam a ser mestres amigos, os velhotes mais simpáticos, quer da minha freguesia, quer das freguesias ali à volta. Por todos os motivos e por mais este: eu gostava de os ouvir e já não havia muito… já estávamos no tempo do rádio, a televisão já tinha chegado a algumas casas e já não havia muito quem quisesse ouvir velhos. E, então, eu apanhei essa gente na taberna. Então, eles contavam, eu contava. Aquilo que a minha avó me fazia muitas vezes, também eles me faziam, que era: “Agora contas tu!”. Pronto. Isso deu-me um prazer enorme porque a minha vida, também a minha meninice não foi fácil. Eu comecei a trabalhar não tinha seis anos, a comprar ovos… O que me fez também ir conhecendo histórias. Algumas delas da vida, muito reais, mas que me entusiasmaram. Conhecer pessoas fantásticas, que me queriam comunicar alguma coisa e, portanto, esse foi sempre o meu meio. E, então, na taberna, nós chegávamos a ter verdadeiras sessões de contos. O que foi, para mim, das coisas melhores da minha vida. Eu, hoje, confesso que dando tudo o que posso aos meus netos… Os meus filhos dão o que podem aos filhos… Mas, eles têm um prejuízo colossal: não conhecerem os velhos que eu conheci. Na minha freguesia, até à chegada da televisão, os incultos falavam de história de arte, porque Coimbra foi uma grande capital da Renascença. Aliás, da Renascença Coimbrã e tal. E, até essa época, falava-se disto tudo. Contavam-se histórias fantásticas daquele edifício e do outro e tal.
Eu nisso fui um felizardo, que tive a possibilidade de manter sempre viva esta memória. Tive a felicidade de ter quem me fosse fornecendo muitas histórias. E tive a felicidade, também, de quem me acarinhou como sendo seu neto e que me fez sempre sentir muito à vontade e que era importante eu continuar a fazer isto. Foi essa gente e foi desta forma que eu me moldei, pronto.
LCC: E a tua avó contava no contexto familiar, contava para vós. Mas e contava também para outros? Ela contava só no ambiente familiar ou também contava…
JC: A minha avó contava em ambiente familiar e depois quando havia casamentos, baptizados, etc. Havia sempre espaço para estas coisas. Até chegarem as aparelhagens sonoras para fazer barulho durante as refeições e tal. Eu lembro-me que eu escolhia sempre aquele espaço onde estavam essas pessoas, a minha avó e uma elite assim muito parecida e tal. E, durante as refeições, entre garfo e colher e tal, havia sempre uma pequena história. Havia uma coisinha, não havia tempos mortos. E a minha avó tinha essa vantagem de ser uma boa contadora, uma boa cantadeira que reunia sempre, assim, um pequeno clã. Ali, assim, ali por perto. E, por exemplo, quando alguém matava um porco, a minha avó não matava porque era muito pobre, mas quando alguém matava um porco, quer dizer, eles iam porque era família, parentes ou assim. Quando havia uma situação qualquer em que se justificava as pessoas ajudarem, pequenos trabalhos comunitários e tal. A minha avó nisso era uma pessoa sempre muito presente. Primeiro, porque toda a gente a conhecia e amava muito, pela medicina que praticava sem levar nada a ninguém. Depois pela presença... Sempre que alguém estava doente, assim uma criança, um problema, ela estava presente. Então, ela, em todos os espaços onde não se dizia nada, contava-se uma história.
LCC: E, portanto, são essas histórias que ouviste que fazem parte do repertório que tu contas?
JC: Sim, sim. E perdi muitas. Perdi muitas, porquê? Porque algumas delas eu, na altura, até achava que não valia a pena, era uma coisa que eu falava só muito de vez em quando. Hoje, tenho uma tristeza muito grande de ter perdido algumas dessas histórias, porque aquela do “Sal de semente”, etc., era uma versão que eu não encontro em mais lado nenhum. Eu, por exemplo, a história da “Tia Maria Miséria” andou muito fugida. E a única pessoa que contava assim muito parecido com a minha gente era a Cristina Taquelim.
...
JC: Uma história muito evoluída, muito burilada onde… lá era com uma laranjeira, portanto, a morte fica presa na laranjeira. Não eram dois miúdos, eu sei que eram mais. A Cristina conta com dois miúdos mas eram mais. Mas era tão parecida, tão parecida que eu adoptei um pouco a história da Cristina porque é quase a chapa.
PERFORMANCE
JC: “Então entrem. São minhas convidadas”. Elas estranharam. A tia Maria Miséria não dava nada a ninguém. Mas ela não tinha ido à escola. Não podia ler jornais e não havia rádio nem televisão nesse tempo. Ela dava a sua marmelada de laranja, o seu pão de trigo e o seu café a troco das notícias do mundo. Só que a Vida e a Morte sentaram-se à mesa. Comeram, comeram, comeram. E depois debruçaram-se e “rrrrzzzzzzzz”. “Olhem para isto, dei-lhes o meu café e o meu pão, o meu doce, a minha marmelada, para isto? E logo marmelada de laranja. As laranjas que são a minha fruta de eleição. E agora roncam à minha mesa! Que falta de educação. E não falam comigo! Ah, mas, amanhã falam. E não lhe vou dar a minha cama. Durmam aí”. Ela já era noite alta. A ti Maria Miséria desistiu, deitou-se mesmo. E quando se levantou de manhã, nem uma nem outra. A velha batia com a bengala pelas paredes e pelas portas…
...
JC: Porque quem me contava esta história... Lá está, há histórias que foram guardadas em família. Se a minha família guardou o Serafim, o criado Serafim, uma família fantástica, que era a família do Manuel Gonçalves, do Manuel de Seixa, eram dois cunhados que casaram com duas irmãs, por isso é que eram cunhados... Mas, elas eram umas pessoas fantásticas, eles também. Aliás, tenho as melhores recordações dessas pessoas. São as primeiras pessoas a ter televisão. Era preciso pagar cinco tostões para ver televisão. Veio aquela história do barco de Santa Maria e tal, do Henrique Galvão e umas senhoras que hoje são... Que já eram mais velhas do que eu na altura, já namoravam, eu era um menino... Mas elas gostavam muito de mim e, quando iam ver televisão, queriam que eu também fosse. Mas o meu pai não estava sempre disposto a dar os cincos tostões. Porque tínhamos direito a um suspiro ou a um rebuçado. Mas, eram cinco tostões, não é? E um dia estes senhores perguntaram à Piedade e à irmã porque é que eu não ia com elas sempre. E elas disseram-lhe: “Oh, porque o Senhor Arménio não dá os cinco tostões assim tanta vez ao filho, não é? O nosso pai dá, mas ele não dá”. E eles, imediatamente, lhes dizem: “Pois o Zé que venha que não paga”. E era fantástico porque o senhor Manuel de Seiça, não, agora o senhor Manuel Gonçalves, filho do médico que era pai dos pobres e pai de um grande cardiologista, era um homem fantástico. E, então, os programas de televisão muitas vezes não valiam nada, porque foram os primeiros tempos, aquilo era uma desgraça às vezes… Depois havia aquelas interrupções porque a antena não estava bem ou não sei quê, ou a emissora não estava bem... Aparecia uma coisa que dizia: “Interlúdio musical, o programa segue dentro de momentos”, pronto. E, então, o que é que o senhor Manel Gonçalves fazia... ou então vinha um Barradas de Oliveira, um político do antigo regime que vinha falar-se, porque não havia mais nada às vezes para passar, não é? E, então, o que é que o Manuel Gonçalves fazia: ou ia buscar a concertina ou o violão ou a sua guitarra e punha toda a gente a cantar, a dançar. Ou então contava. E eu fui-me encostando ali assim até que passámos a ter, sempre que o programa não valia nada, sempre, uma verdadeira roda de contos. E esta gente é que me formou. No fundo, a minha felicidade estava ali. Pronto. E eu, ainda hoje com uma certa saudade, lembro-me de isto tudo. Porque foi tão bom. O suspiro, eu não queria aquilo para nada! Queria era com aquela companhia fantástica. Por isso, eu me apaixonei depois... porque eu nunca soube tocar guitarra, nada que prestasse. Mas aprendi as variações em dó menor que o Senhor Manuel Gonçalves tocava. Acho que ainda sou capaz hoje de… Mas aprendi o Estalado, o Verde Gaia, de roda, a Farrapeira e tal. O Estalado, esqueci-me dos batimentos mas acho que ainda lá sou capaz... um dia ainda lá irei. Mas, claro, aquela gente para mim foram uns mestres, que me proporcionaram momentos maravilhosos, a mim e a outras pessoas. Mas, tenho uma saudade desse tempo. Mas, esses eram os homens do sal de semente. Quase, se não era mais, de quinze em quinze dias, todos os meses tínhamos o sal de semente. Porquê? Porque éramos uma zona de passagem. Coimbra e a Figueira da Foz. Passava muita gente ali a vender coisas que era uma aldrabice. E sempre que havia uma aldrabice no ar, o sal de semente, nesse dia, contava-se.
Eu só me lembro isto, não me lembra rigorosamente de mais nada. É um homem que traz um saco e onde chega diz: “comprem sal de semente. Quem quiser sal, compra do meu sal”. E como nós somos de uma terra onde se cria o arroz e, as marinhas de arroz são um pouco parecidas com as marinhas de sal, o homem diz “façam uma marinha, semeiem este sal de semente e vão ver que o sal nunca mais acaba”. O que é certo é que depois as pessoas desiludem-se. Mas, eu já não sou capaz de aqui para a frente de dizer mais nada. Não sei mais nada, bloqueou completamente, tapou. E as outras histórias que eu ouço, não têm muito isto e dá-me ideia que é… descontinuidade, assim.
...
LCC: Algumas, tu perdeste, ou seja, não tens o registo dessas histórias?
JC: Eu nunca tive dinheiro para um gravador. Agora já tenho lá uma coisa dessas, mas estou tão desabituado que até me esqueço que o tenho. Porque habituei-me a guardar tudo na memória, como tinha uma memória de elefante…. Só que os anos, depois, também vão passando. A vida, também, me pregou assim uns abanões. E algumas coisas que eu gostava muito, esqueceram-me, pronto.
...
LCC: Como é que foi para ti essa experiência, de pessoa que contava na sua comunidade, no seu lugar, para de repente ser alguém que anda pelo país e que vai a escolas e que vai a festivais para contar?
JC: É assim. Isto faz-me sentir um bocadito realizado. Porque a minha escola dos contos era uma escola onde o conto não servia para passar tempo. Servia para passar uma mensagem. E a mensagem passava por vários aspetos. Um deles era, por exemplo, tentar transmitir às pessoas que a desgraça tem um tempo. Depois virá um tempo melhor. As histórias, é rara aquela que não aponta para aí.
E aí eu sinto-me realizado. Se não fosse isso, o dinheiro não me trazia a felicidade que isto me traz. Que é fazer o que é possível, aliás, era a preocupação dos velhos no meu tempo. Pessoas que passaram muito, mas que tiveram sempre alegria. Boa disposição. E quiseram sempre que nós olhássemos para as coisas boas da vida e fizéssemos, também, uma paragem, em muitas situações da vida, para pensar nestas duas coisas que é: aproveitar o que é bom, ficar felizes porque evoluímos para melhor e depois também, no fundo, uma coisa que é fundamental, que é ser agradecido. E aí, penso que é o que me preenche mais a alma, que me enche de muito gozo, muita alegria, é isso mesmo. É o que tento transmitir aos meus netos, aos amigos deles, a todas as pessoas com quem comunico. Não são só os mais novos, porque e até muitas vezes aos mais velhos, porque ainda ontem com aqueles velhinhos e tal, havia pessoas demasiado tristes. Quando os avós deles não tiveram um espaço com alguém a tentar suprir as faltas, a tentar dar-lhes aquilo que antigamente não tinham, porque muitos deles muitas vezes não comiam porque não conseguiam fazer a comida. Também não conseguiam ir buscá-la. Agora, então, pelos menos, isso têm. É muito melhor. É isto que eu tento muitas vezes. E que me sinto muito bem, quando as pessoas esboçam um sorriso. Porque, afinal, perceberam que afinal estão um bocadito melhor do que aquilo que até imaginaram.
...
LCC: E desde que começaste a contar assim, nesse tipo de contexto novo, nas bibliotecas, nas escolas, nos festivais, tu sentes que contas hoje de uma maneira diferente?
JC: Muito diferente.
LCC: Mas que diferença é que tu sentes na tua maneira de contar, Zé? Tu agora quando tens por exemplo… Ontem, tiveste que subir para um palco, não é? E contar ali de cima de um palco para a plateia…
JC: Para mim é o sítio pior da vida. É o sítio pior da vida porque eu não nasci para ser artista. Nasci para ser talvez um agitador.
...
LCC: Acontece-te muito, aqui em Portugal mais do que noutros países, acontece muito aquele desafio de contarmos em duo ou em trio, como foi ontem à noite, ou como foi ontem à tarde. Ou seja, dois contadores ou três contadores em que os contadores chegam, não têm assim ainda a coisa muito bem planeada e têm de improvisar e têm de contar. O Fontinha, eu sei que o Fontinha tem um especial apreço por fazer isso contigo. E, queria saber o que é que achas disso, o que é que achas de contar assim desta maneira, como é que te sentes? E depois, como que é que tu pensas, o que é que te leva a contar uma história e não outra... o que é que?...
JC: Com o António Fontinha – aliás, é com todos, convosco ontem também – não há programa. Por isso é que eu gosto que alguém comece primeiro e eu tento muitas vezes… ali à noite, lá está, estar num palco não me deu assim um conforto muito grande…. Mas, mas é assim: contando a dois ou três é muito melhor. Porque uma caminhada faz-se melhor em companhia do que sozinho. E depois, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, uma pessoa conta uma história, outra conta outra. E uma pode ser menos agradável. Mas depois daqui a bocado já outra é mais. Eu sinto que o espaço é muito mais enriquecido. Se eu estou sozinho.... Depende também das pessoas para quem se fala, mas normalmente torna-se muito mais monocórdico. Aquilo é assim um bocado... em certas situações não é nada agradável. Com dois contadores, com três, acho que é muito… Porque eu nunca fui muito amigo da solidão. Ser solitário é uma coisa muito chata. Ou porque eu sou muito palrador ou não sei, mas…. O meu povo, lá na minha zona, diz-me uma coisa que é muito interessante que é: “Só se veja, quem só se deseja”.
...
JC: O livro mais triste do mundo é do António Nobre e o título é esse, “Só”. Não gosto. Quando estou na companhia de um, dois ou três contadores, ah, sinto-me muito melhor. Porque talvez seja a cópia daquilo que nós fazíamos.
...
JC: E lá voltou atrás outra vez: um, sozinho, dá quase a sensação que é um artista. Artista, para mim, não é grande ideia, grande coisa.
...
ZC: Nós os contadores podemos ser, deixem passar, os fazedores de um mundo novo, bem diferente. E, portanto, também nós nos devemos sentir muito bem connosco próprios e também agradecidos por aquilo que recebemos. Porque, afinal, portadores de uma mensagem nova, que estaria esquecida, porque toda a gente olhava e ninguém via. Portanto, acho que tudo isto é bom demais.